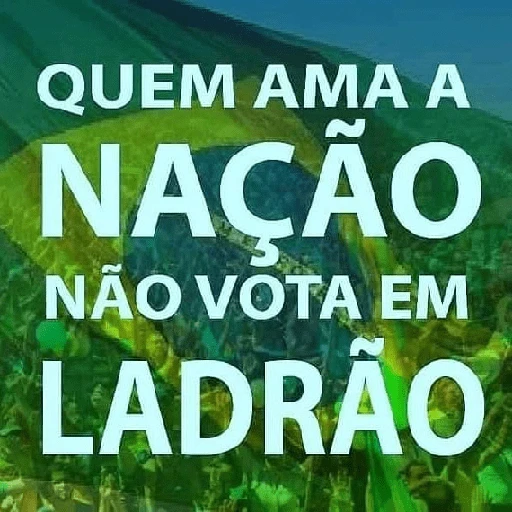Por Marcos Rodrigues em Dezembro 2015.
Subindo a serra do Itatiaia e observando o gradiente altitudinal de diversidade. Foto: Pedro Jordano
Estou aqui dentro de um ônibus, ainda como aluno de
graduação em biologia junto com outros trinta e cinco colegas de turma numa
excursão rumo ao Parque Nacional do Itatiaia, nas montanhas do Rio de Janeiro.
O professor que nos guia é o corajoso João Vasconcellos. Corajoso porque eu
dificilmente levaria a cabo uma excursão destas. São quase quarenta
pós-adolescentes com os hormônios à flor da pele, apinhados num ônibus sem ar
condicionado, com as janelas escancaradas deixando que o ar quente do vale do
Paraíba infeste ainda mais o ambiente de euforia. Um toca violão lá no fundão
do ônibus, acompanhado por vozes desafinadas. A turma que senta nas poltronas
intermediárias conversa, ri, gargalha e gesticula sem parar. Poucos realmente
prestam atenção ao que está acontecendo.
Para falar a verdade, eu confesso que nada sabia
sobre a serra do Itatiaia, a não ser que lá estava um dos picos mais altos do
Brasil com seus 2.791 metros de altitude. Todo esse conhecimento profundo vinha
das aulas de geografia do ensino fundamental, já deixado para trás há anos:
Agulhas Negras, outrora considerado o pico mais alto do Brasil.
Mas o professor Vasconcellos nos proporcionou uma
viagem fascinante que jamais esquecerei. Saímos do quente e abafado vale do
Paraíba, numa altitude de 500 metros acima do nível do mar, na caótica rodovia
Presidente Dutra. Acredite: nos anos 80 essa rodovia era muito pior que nos
dias de hoje.
A estrada nos levava ao sopé das montanhas
florestadas e escuras protegidas pelo Parque Nacional do Itatiaia.
“Saímos da baixada, quase ao nível do mar, e vamos
em direção ao planalto, visitaremos o pico das Agulhas Negras que está a quase
três mil metros de altitude. O que iremos testemunhar agora é um dos padrões
ecológicos mais conhecidos: o gradiente altitudinal de diversidade”. Foram as
palavras do professor.
Mas afinal o que é o gradiente altitudinal de
diversidade?
À medida que o ônibus subia a serra percebíamos a
mudança na vegetação. No início a floresta com árvores altíssimas, de troncos
grossos e repletos por bromélias e outras epífitas. O sub-bosque era densamente
povoado por árvores menores, arbustos, palmiteiros, taquaras e xaxins gigantes.
Tudo era muito verde, muito úmido e muito escuro. O ônibus subia e olhávamos
pela janela toda aquela paisagem fechada e sem horizontes.
Curvas e mais curvas entre subidas íngremes ao lado
de desfiladeiros florestados: nada mais do que isso.
“Agora percebam a floresta nebular, o menor número
de espécies de árvores pode ser notado pela copa uniforme das árvores”.
Continuava o professor.
Sim, estávamos agora no sopé do planalto, a mais de
mil metros de altitude e a floresta alta e densa da baixada havia se
transformado numa floresta de árvores pequenas e de troncos completamente
tomados por musgos e barbas-de-velho (que é uma bromélia). Tudo isso em meio a
uma neblina densa que fazia com que a paisagem se parecesse com um jardim de
duendes.
“Finalmente chegamos aos campos de altitude, onde
praticamente não há árvores, mas muitas gramíneas e outras plantas típicas
desse ecossistema que só ocorrem aqui. Agora percebemos claramente o padrão do
gradiente altitudinal de diversidade: à medida que subimos uma montanha, a
diversidade de flora e fauna diminui. O número de espécies de árvores e
arbustos cai a zero, e essa diminuição de diversidade acontece com muitos
grupos de animais”. Mais uma vez avisava o professor.
Nos campos de altitude o horizonte se abria diante
dos nossos olhos, com um céu azul anil forte que protegia toda a paisagem ocre
das gramíneas. Neste momento descemos do ônibus e começamos uma caminhada rumo
às famosas Agulhas Negras.
Os campos de altitude são ecossistemas que aparecem
nos pontos mais elevados das montanhas do leste do Brasil: nas serras do Mar,
da Mantiqueira e do sul do Brasil, a serra do planalto gaúcho. Estes campos
estão situados acima de 1500 metros de altitude e geralmente sobre rochas de
granito. A flora dos campos de altitude e, até certo ponto, o clima e o solo se
mostram muito semelhantes àqueles da região dos Andes e assim esse ecossistema
também recebe a denominação de “páramos brasileiros”.
A diminuição do número de espécies de plantas e
animais à medida que subimos uma montanha não é um fato novo na ciência. O
padrão de gradiente altitudinal fora descrito há muitos anos por um dos maiores
cientistas da humanidade: Alexander von Humboldt.
De Berlin para os Andes: uma narrativa que
transcende o tempo
Alexander von Humboldt por Friedrich Georg Weitsch. Fonte: Wikipédia
Humboldt viveu entre 1769 e 1859 e escreveu sobre
tudo: geologia, geografia, história natural, economia, física e química.
Humboldt nasceu em família nobre na Berlin da antiga Prússia (hoje Alemanha).
Possivelmente ele foi o mais famoso cientista de sua época. Humboldt descreveu
cerca de 4.000 experimentos científicos, envolvendo cerca de 300 tipos
diferentes de animais e plantas – de ratos a mimosas, sanguessugas e outros
vermes. Ele concluiu, por exemplo, que os animais partilham o potencial geral
de estimulação elétrica (que está ausente em plantas), e que a estimulação
elétrica é transmitida através dos nervos.
Mas Humboldt é mais conhecido por ter sido um
intrépido explorador. Sua vida foi cheia de aventura e descobertas, quer
escalando os vulcões mais altos do mundo, remando pelo Orinoco ou atravessando
a gélida Sibéria.
Seus trabalhos mais conhecidos são as descrições
precisas sobre a geografia da América do Sul, por onde ele empreendeu uma épica
viagem entre os anos de 1799 e 1804. Humboldt escreveu dezenas de livros e
artigos científicos e foi exatamente entre as montanhas mais altas da
cordilheira dos Andes que ele vislumbrou o padrão altitudinal de diversidade.
Viagem ao pico da Terra
Chimborazo: um vulcão em forma de cone situado em
plena linha do equador, culminando a 6.267 metros de altitude e a apenas 180 km
ao sul de Quito é o pico mais alto dos Andes equatoriais. Segundo as próprias
palavras de Humboldt:
“Na costa do mar do Sul, após as longas chuvas
de inverno, quando o ar de repente se torna mais lúcido, Chimborazo aparece
para o observador como uma nuvem no horizonte; ele destaca-se dos picos
vizinhos; ele paira acima de toda a cordilheira dos Andes tão majestoso quanto
o duomo, a obra do gênio Michelangelo que paira acima dos monumentos antigos
que rodeiam o Monte Capitolino”. 1
Humboldt, além de descrever poeticamente o
Chimborazo já explica a magnitude da montanha:
“O brilho radiante de suas neves, quando visto
do porto de Guayaquil, no final da estação chuvosa é discernido no horizonte.
Isso pode nos levar a supor que ele deve ser visto a uma distância muito grande
no mar do Sul. Os pilotos altamente dignos de crédito garantiram-me que eles o
observam a partir da rocha de Muerto, a sudoeste da ilha de Puna, a uma
distância de 47 léguas”. 1
Chimborazo, pintado por Frederic Edwin Church (1826-1900) em 1864.
Church é um dos principais artistas dos Estados Unidos. Suas leituras de
Alexander von Humboldt o levou a viajar aos Andes, onde ele seguiu os passos de
Humboldt. “A grandiosidade épica e a dramaticidade sublime de sua obra
sintetizam as ideias do romantismo”. Fonte: Wikipédia e 'O Livro da Arte' –
Martins Fontes
Em Junho de 1802, Humboldt e seu amigo inseparável,
o botânico Aimé Bonpland, subiram as encostas do Chimborazo, até então
considerada a montanha mais alta do mundo. Eles chegaram a 6.327 metros, um
recorde de escalada na época. O pico só foi atingido em 1880, pelo famoso
alpinista britânico Edward Whimper.
Humboldt, um escritor prolífico, descreveu suas
observações em um livro intitulado “Ensaio sobre a geografia das plantas”
publicado em 1807 e considerado um texto fundamental da ecologia e
biogeografia.2
“Eu escrevi a maior parte do trabalho na própria
presença dos objetos que eu estava a descrever, no sopé do Chimborazo, no
litoral do mar do Sul.” 2
A descrição de Humboldt não poderia ser mais
precisa:
“Quando se sobe a partir do nível do mar para os
picos de altas montanhas, pode-se ver uma mudança gradual na aparência da terra
e nos vários fenômenos físicos na atmosfera. As plantas nas planícies são
gradualmente substituídas por outras muito diferentes: plantas lenhosas
diminuem pouco a pouco e são substituídas por plantas herbáceas e alpinas;
ainda mais alto, encontra-se apenas gramíneas e criptogâmicas. As rochas são
cobertas com alguns líquenes, mesmo nas regiões de neve perpétua. Como o
aspecto das mudanças de vegetação, o mesmo acontece com a forma dos animais: os
mamíferos que vivem na floresta, os pássaros que voam no ar, até mesmo os
insetos roendo as raízes no solo são todos diferentes de acordo com a elevação
do terreno.” 2
Humboldt continua descrevendo o fenômeno e o
compara a várias outras partes do planeta, esboçando com lógica aguçada que os
padrões altitudinais estão diretamente relacionados aos padrões latitudinais:
“Estas variações são encontradas em todas as
regiões onde a natureza fez cadeias de montanhas e planaltos acima do nível do
mar; mas são menos proeminentes em zonas temperadas do que no equador onde a
Cordilheira tem uma altitude de 5.000 a 6.000 metros, e onde há uma temperatura
uniforme e constante em cada elevação. Perto do pólo norte há montanhas quase
tão colossais como as encontradas no reino de Quito, e cujo agrupamento foi frequentemente
atribuído a rotação da Terra. Monte Saint Elias, situado na costa americana em
frente à costa da Ásia, a 60 ° 21 ‘de latitude boreal, tem 5.512 metros de
altura; Monte Fairweather, situado no grau 59 de latitude boreal, tem 4.547
metros de altura. Na nossa latitude média de 45 graus, o Mont-Blanc tem uma
altura de 4.754 metros, e pode-se considerá-lo como sendo a montanha mais alta
do Velho Continente, até que exploradores corajosos possam medir a cadeia de
montanhas no noroeste da China, que alguns têm afirmado a ser maior do que
Chimborazo. Mas nas regiões do norte, nas zonas temperadas a 45 graus, o limite
da neve permanente, que é também o limite para toda a vida organizada, é apenas
a 2.533 metros acima do nível do mar. O resultado é que em montanhas das zonas
temperadas, a natureza pode desenvolver a variedade de seres organizados e
fenômenos meteorológicos em apenas metade da superfície oferecidos por regiões
tropicais, onde a vegetação deixa de existir somente em 4.793 metros. Em nossas
latitudes do norte, a inclinação dos raios do sol e do comprimento desigual dos
dias elevam a temperatura no ar da montanha tanto que a diferença entre a
temperatura nas planícies e a temperatura a 1.500 metros é muitas vezes
imperceptível: por este motivo, muitas plantas que crescem ao pé dos nossos
Alpes também são encontrados em grandes alturas.” 2
Humboldt também descreve os animais que encontra no
alto de Chimborazo. A caracterização dos animais se dá pelas cotas de altitude
e não poderia ser mais precisa.
“Do nível do mar até 1.000 metros, nas regiões
de palmeiras e gengibres [Zingiberales], encontram-se preguiças que
vivem na Cecropia peltata; boas e crocodilos que
dormem ao pé da Conocarpus e Anacardium caracoli.
É aí queCavia capivara se esconde nos pântanos cobertos de Heliconia e Bambusa a
fim de escapar da busca da onça; Crax, tanayra e papagaios
empoleiram-se em Caryocar e Lecythis. É aí que se
vê Elater noctilucus alimentando-se de cana de açúcar, e Curculio
palmarum vivendo na medula de coqueiros. As florestas nessas regiões
tórridas estão vivas com os gritos dos macacos bugios e outros macacos sapajou.
A onça-pintada, o Felis concolor, e o tigre preto do Orinoco, ainda
mais sanguinário do que o jaguar, caçam cervos pequenos (C. mexicanus), Cavia
e tamanduás, cuja língua é fixada no final do esterno.” 2
A presença de animais ‘perniciosos’ encontrados nas
terras baixas tornou sua viagem ainda mais difícil.
“O ar das regiões das terras baixas,
especialmente na borda de matas e nas margens dos rios, está cheio de mosquitos
em tais quantidades que esta parte grande e bonita da terra é quase inabitável.
Além dos mosquitos, háOestrus humanus [mosca berneira – Dermatobia hominis] que
colocam seus ovos na pele dos homens e provocam dolorosos inchaços; há ácaros
que atacam a pele, aranhas venenosas, formigas e cupins que destroem as
estruturas construídas pelos habitantes.” 2
Entre as cotas de 1000 e 2000 metros de altitude
Humboldt descreve:
“Nas regiões de samambaias arborescentes, quase
não há jaguares, não há boas, não há crocodilos, e não há peixes-boi e alguns
macacos; mas há uma abundância de antas, porcos do mato e Felis
pardalis. Homens, macacos e cães são incomodados por um número infinito de
pulgas (Pulex penetrans) que são menos abundantes nas planícies.” 2
As surpresas encontradas por Humboldt continuam
conforme ele sobe o Chimborazo:
“Entre 2.000 e 3.000 metros, nas regiões
superiores do quinquinas, não há macacos, não há Cervus mexicanus;
mas há Felis tigrina, ursos, e o grande veado dos Andes. A esta
altitude, igual à cimeira Canigou, piolhos, infelizmente, são abundantes. De
3.000 a 4.000 metros, encontra-se uma espécie de pequeno leão chamado puma na
língua Quichoan, pequenos ursos com testas brancas, e algumas civetas [provavelmente
mustelídeos]. Eu fui surpreendido ver beija-flores em altitudes semelhantes
ao cume Tenerife.” 2
E finalmente, nos páramos da cordilheira, Humboldt
destaca os animais que ali habitam e suas questões biogeográficas:
“A região de Espeletia frailexon e de gramíneas, de
4.000 a 5.000 metros de altitude, é habitada por grupos de vicunhas, guanaco, e
alpaca …. É um aspecto muito marcante da geografia de animais que alpacas,
vicunhas, e “guanaco” vivem ao longo de todo o cume dos Andes, do Chile até o
nono grau de latitude austral, mas não são vistos a partir desse ponto ao
norte, nem no reino Quito, nem nos Andes de Nova Granada. A avestruz [ema] de
Buenos Aires apresenta um fenômeno semelhante. É difícil entender por que esse
pássaro não é encontrado nas vastas planícies ao norte da Cordillera Chiquitos,
onde bosques são intercaladas com algumas savanas.” 2
Humboldt descobre os limites da vida
Humboldt e Bonpland a caminho do Chimborazo, por
Friedrich Georg Weitsch. Fonte: Wikipedia
Humboldt e Bonpland “rastejavam sobre mãos e
joelhos ao longo de um alto cume estreito que tinha apenas dois palmos de
largura. O caminho, se é que se pudesse chamar aquilo de ‘caminho’, estava
repleto de camadas de areia e seixos soltos que se deslocavam quando tocados.
Para baixo à esquerda era um penhasco íngreme incrustado com gelo que brilhava
quando o sol rompia a nuvem espessa. A vista para a direita, com uma queda de
300 metros, não era muito melhor. Ali, as paredes escuras estavam cobertas de
rochas que se projetavam como lâminas de faca. Humboldt e Bonpland se moviam
lentamente. Sem equipamento e sem roupas apropriadas, aquilo era uma escalada
perigosa. O gelo já havia anestesiado suas mãos e pés. A neve úmida já havia
penetrado por suas botas finas, e cristais de gelo se penduravam sobre seus
cabelos e barbas. A 5.200 metros acima do mar eles lutavam para respirar o ar
rarefeito. À medida que prosseguiam, as rochas pontiagudas desfiavam a sola de
seus sapatos, e seus pés começavam a sangrar.” 3 Não
havia mais vida a partir daquela altitude.
Era 23 de junho de 1802 e Humboldt e Bonpland, que
já haviam sido abandonados pelos guias locais, estavam agora na zona de gelo
‘eterno’ do Chimborazo. Os limites biogeográficos da cordilheira são então
perfeitamente expostos por Humboldt:
“O limite inferior de neve perpétua é, por assim
dizer, o limite superior dos seres organizados. Algumas plantas liquenóides
vegetam por baixo da neve; mas o condor (Vultur gryphus) é o único
animal que vive nestas vastas solidões. Vimo-lo subir a mais de 6.500 metros de
altitude. Alguns esfingídeos [borboletas Sphingidae] e algumas
moscas que vimos a 5.900 metros de altitude pareceu-me serem levados para lá
involuntariamente por correntes de vento ascendente.” 2
Finalmente Humboldt coloca as condições
atmosféricas como explicação para o surgimento deste padrão:
“Nos trópicos, pelo contrário. Na vasta
superfície de até 4.800 metros, sobre esta superfície íngreme, escalando do
nível do mar para as neves perpétuas, vários climas seguem um ao outro e estão
sobrepostos, por assim dizer. Em cada elevação, a temperatura do ar varia
apenas um pouco; a pressão da atmosfera, o estado higroscópico do ar, a sua
carga elétrica, todos estes seguem leis inalteráveis que são ainda mais fáceis
de reconhecer porque os fenômenos são menos complicados lá. Como resultado,
cada elevação tem as suas próprias condições específicas, e, portanto, produz
formas diferentes de acordo com estas circunstâncias, de modo que nos Andes de
Quito, em uma região com uma largura de 2.000 metros pode-se descobrir uma
maior variedade de formas de vida que em uma zona igual nas encostas dos
Pirineus.” 2
Desde então, muitos naturalistas de peso, como
Charles Darwin e Alfred Russel Wallace e ecólogos contemporâneos trabalharam
para confirmar se esse padrão poderia ser generalizado para todas as plantas e
animais. É bom lembrar que Personal Narrative of Travels to the
Equinoctial Regions of the New Continent era o livro de cabeceira de
Charles Darwin enquanto ele navegava a bordo do Beagle. Wallace
também cita o mesmo livro como um dos mais importantes da sua vida.
Ao que parece o padrão foi encontrado para espécies
de mamíferos, formigas, árvores e muitas outras plantas e aves. Várias
hipóteses foram lançadas para explicar este fenômeno. Condições atmosféricas
como a temperatura e pluviosidade poderiam explicar o fato? Ou seria apenas um
efeito de área? Áreas maiores são capazes de suportar mais espécies? Afinal, à
medida que aumenta a altitude, a área total diminui, assim, existem mais
espécies presentes em altitudes médias e baixas que nas altas elevações. Será?
Mas o buraco é sempre mais embaixo: nova luz sobre
os gradientes de diversidade
Em 1995, o pesquisador Carsten Rahbek, da
Universidade de Copenhagen, se perguntou se o conhecimento convencional sobre o
padrão de gradiente de diversidade era apoiado por dados robustos. Rahbek
conclui surpreendentemente que não! A maioria dos estudos, quando o esforço de
amostragem era corrigido, mostrava que existiam diversos resultados para cada
estudo analisado, mas parecia que um padrão emergia: a diversidade de espécies
atingia um máximo em elevações intermediárias. 4
Os estudos analisados por Rahbek eram provenientes
de várias cadeias de montanhas, e com vários grupos diferentes de animais e
plantas. Uma hipótese para explicar porque diferentes padrões de gradientes de
diversidade são encontrados no planeta é que a escala e a extensão das
elevações estudadas variam muito entre os estudos. Outra hipótese é que diferentes
cadeias de montanhas pertencem a regiões climáticas específicas, com histórias
evolutivas próprias. A história evolutiva daquele grupo de espécies analisado
nos estudos de gradiente altitudinal parece sempre ter sido um aspecto
negligenciado pelos pesquisadores. 4
Hoje, os biólogos atribuem um grande número de
fatores que podem explicar os gradientes altitudinais de diversidade, tais como
produtividade primária do local, dinâmicas populacionais de extinção e
colonização locais, tamanho da área, restrições geométricas das áreas
amostradas e a história evolutiva daquele ecossistema ou das espécies
analisadas. 4
A variedade de resultados encontrados entre os
múltiplos estudos sugere que um único mecanismo não pode explicar todos os
gradientes de diversidade observados no planeta. Estudos futuros deverão
incorporar a interação entre o clima contemporâneo e o clima passado, ou
deverão integrar ecologia e evolução, ou empregar novas ferramentas para
entender os efeitos das mudanças climáticas sobre os padrões atuais e o futuro
da biodiversidade. 4
O efeito da temperatura, entretanto, nunca foi
descartado, o que gera preocupação entre os ambientalistas, pois afinal a
temperatura do planeta vem aumentando consideravelmente.
A neve do Chimborazo está desaparecendo. Não apenas
o mítico Chimborazo de Humboldt. Geleiras em toda a cordilheira dos Andes estão
derretendo ano a ano. As consequências são potencialmente graves para as
sociedades humanas na região, pois o degelo glacial é fundamental para o
abastecimento de água, agricultura e geração de energia. Mas Humboldt já
previra isso. Em 1844, ele listou as três maneiras pela qual a espécie humana
afeta o clima:
“Através das destruições das florestas, através
da distribuição de água, e através da produção de grandes massas de vapor e gás
nos centros industriais.” 3
O meu Chimborazo
O meu Chimborazo: o pico das Agulhas Negras. Fonte:
Alex Hubner/Wikipédia
Estamos agora no sopé do pico das Agulhas Negras, o
meu Chimborazo, aqui mesmo nas montanhas do Rio de Janeiro. Um planalto sem
fim, repleto por gramíneas de cor ocre metálico está à minha frente. Um céu
azul magenta incólume circunda 360 graus da minha visão. Um vento suave e frio
me gela a garganta e me faz encapuzar um gorro de lã feito pela minha avó. O
silêncio se instala mesmo numa turma de quase 40 pós-adolescentes. Estamos
tragados pela beleza única da paisagem. Uma parede cinza escura de pedras, como
dedos maciços e redondos se ergue sobre nosso horizonte e aponta para o
infinito: Agulhas Negras e não dedos negros. Contemplo-o com se fosse a paisagem
mais bela jamais vista por um ser humano. Naquele momento eu sou Alexander Von
Humboldt.
De repente escuto o professor Vasconcellos:
“Um fato indiscutível é que nesses picos de
montanha ocorrem espécies endêmicas, de distribuição extremamente restrita,
adaptadas a estas condições atmosféricas.”
PS:
Este texto é dedicado aos meus professores João Vasconcellos Neto e Maria Alice
Garcia, que me levaram ao Itatiaia e aos meus colegas da turma de Ciências
Biológicas.
Para saber mais
1- Humboldt, A.v. 1814–29. Personal
Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of the New Continent, During
the Years 1799–1804. 7 vols., 1 (1814), 2 (1814), 3 (1818). London:
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown. [Traduzidos para o inglês por Helen
Maria Williams, mas existem outras traduções e versões. A tradução para o
português é minha].
2- Humboldt, A.v. e Aimé Bonpland. Essay on the Geography of Plants. 2009. The
University of Chicago Press. Tradução de Essai sur la géographie des
plantes, 1807, Paris: Fr. Schoell. [A tradução do inglês para o português
que aparece no texto é minha].
3- Wulf, A. 2015. The invention of Nature. Alfred A. Knopf, New
York. [A tradução de algumas passagens para o português é minha].
4- Sanders, N. J. e Rahbek, C. 2012. The patterns and causes of elevational
diversity gradients. Ecography35: 1–3.
Marcos Rodrigues
Doutor em zoologia pela Universidade de Oxford (UK). Hoje, é
professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais.
Fonte: http://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/vida-das-aves-humboldt-e-eu-escalando-o-pico-das-agulhas-negras/